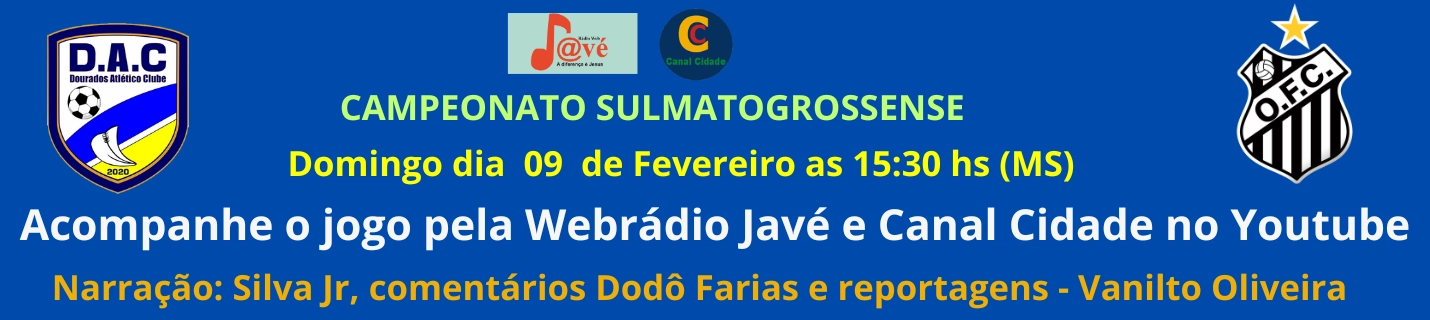Disseram a Eduardo que o País estava morrendo.
Não foi alguém importante. Não foi um livro. Foi um vídeo curto, desses que aparecem entre uma música e outra. A imagem tremia, a voz era firme, e a frase parecia óbvia demais para ser questionada: “O Brasil foi humilhado. Roubado. Corrompido por eles.”
Eduardo acreditou. Porque fazia sentido. Porque explicava sua frustração. Porque finalmente alguém dizia quem era o culpado.
Ele não se achava radical. Trabalhava muito, pagava contas atrasadas, criava o filho como podia. Mas começou a pendurar bandeiras na janela. Vestir camisetas com frases fortes. Compartilhar textos que falavam em decadência, traição, restauração. Não era ódio — dizia a si mesmo — era amor ao país.
Quando a fábrica da cidade fechou, o amor virou raiva.
Milhares sem emprego. Comerciantes quebrando. O grupo onde Eduardo estava tinha a resposta pronta: “Inimigos internos.” Professores. Sindicalistas. Ativistas. Gente que “não era como nós”.
No primeiro protesto, Eduardo sentiu algo novo: pertencimento. Um coro. Um lado. Um “nós” forte o suficiente para esmagar qualquer dúvida. Gritou palavras que nunca tinha dito em voz alta. Não parecia violência. Parecia justiça.
Até o dia em que levaram Lucas.
Lucas era Professor de História da escola do filho de Eduardo. Um homem tranquilo, desses que explicam demais e gritam de menos. Foi apontado como suspeito, acusado de “doutrinar”, retirado da sala de aula diante de crianças confusas.
Naquela noite, o filho perguntou: — Pai… por que prenderam meu professor?
Eduardo respondeu com frases prontas. Soaram corretas. Soaram vazias.
A cidade mudou rápido. Pessoas pararam de se cumprimentar. Amigos se calaram. Tudo virou lado. Tudo virou teste de lealdade. Quem questionava era “eles”. Quem hesitava, também.
Meses depois, veio a verdade que não viralizou: a fábrica não fechara por sabotagem. Foi decisão da matriz, do outro lado do mundo. Corte de custos. Planilha. Nenhum inimigo. Nenhuma conspiração.
Mas essa verdade não interessava. Não dava identidade. Não dava alguém para odiar.
O incêndio veio numa madrugada seca. Um bairro inteiro em chamas. Casas simples. Famílias sem nada. Eduardo correu para ajudar com a bandeira ainda nos ombros, sentindo que finalmente faria algo certo pelo País.
Ouviu comentários ao redor: — Esse pessoal votou errado. — Não é gente do nosso lado. — Deixa aprender.
Eduardo parou.
Entre a fumaça e o caos, reconheceu Lucas. Sujo de fuligem, segurando uma criança que não era sua. O Professor olhou para ele sem raiva, sem ironia. Só cansado.
E disse: — A pátria somos nós. Ou não somos nada.
Naquele instante, Eduardo entendeu.
Entendeu que a ideia de purificar a nação exige sempre um novo inimigo. Que a promessa de grandeza precisa de alguém para ser descartado. Que quando amar o Brasil depende de odiar pessoas, o País já acabou.
Ele tirou a bandeira dos ombros. Não jogou fora. Não a levantou. Usou para cobrir a criança ferida, protegendo-a do frio da madrugada.
Não foi um gesto heroico. Foi pequeno. Humano. E, pela primeira vez, verdadeiro.
Eduardo não salvou a Pátria naquele dia.
Mas percebeu algo essencial: nenhuma nação se ergue gritando contra os próprios filhos. E nenhuma grandeza passada justifica a destruição do presente.
O Brasil não estava morrendo. Estava sendo esquecido sempre que alguém confundia o amor com o ódio.