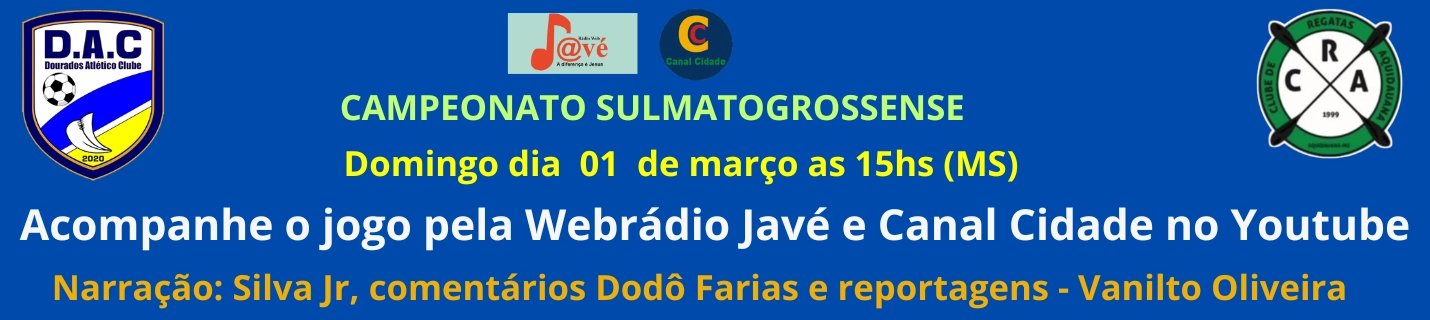Por: Onildo Lopes
Voltando do trabalho, dou de cara com uma equipe consertando buraco no asfalto — o mesmo que, semana passada, mastigou o pneu do meu carro como bolacha de água e sal.
Ali estavam eles, os de sempre, tapando buraco na Rua Arthur Frantz: rostos queimados de sol, mãos calejadas, corpos que carregam mais história que as placas da Praça Antônio João. Guarani e Kaiowá — alguns eu até conheço pelo nome, pelo olhar.
Observei. O suor escorria, misturado à poeira, formando aquela lama que só quem trabalha sob o sol de Dourados conhece. E, enquanto eles tapavam buracos na rua, a cidade seguia cavando outros — invisíveis, mas bem mais fundos.
Aqui onde moro — um condomínio popular no Parque Alvorada, encostado na maior aldeia indígena do Brasil — aprendi, na prática, como funciona a engenharia social: pra cada buraco tapado no asfalto, abre-se outro na dignidade.
A aldeia — essa quase-cidade, quase-fantasma, quase-existência — abriga quase 19 mil pessoas em pouco mais de 3 mil hectares. Dá pra entender? Não. Nem eu. Nem você. Nem quem desenhou isso no mapa.
Falta água. Falta asfalto. Falta coleta de lixo. Falta tudo — menos preconceito, que esse sobra, transborda, escorre pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, pelos balcões dos bares:
— “Roubaram aqui no condomínio… deve ter sido índio!”
— “Vi uns moleques diferentes passando ontem...”
Diferentes, sim. Diferentes de quê? De quem? Da cidade que cresceu fingindo que eles não existem? Da história que apagaram dos livros?
Enquanto isso, nas vitrines dos prédios espelhados da Avenida Weimar Torres, no shopping climatizado, ecoa aquele velho discurso:
— “Aqui em Dourados não tem racismo, não. Imagina! Até meu zelador é indígena.”
Mas quando surge uma vaga pra coleta de lixo, pra limpar bueiro, pra carregar tijolo... ah, aí não tem discussão: os primeiros chamados são eles. Porque, veja bem, pro trabalho pesado, pro invisível, pro que não sai na foto, a cidade não vê cor, não vê etnia — vê necessidade.
E assim seguimos: uns tapando buracos. Outros fingindo que eles nem estão lá.
Mas estão. Estão aqui. Estão no semáforo da Avenida Presidente Vargas, estão na obra do Hospital Regional, estão recolhendo o lixo no Portal de Dourados. Ninguém quer ver — nem reciclar, nem carregar, nem lembrar.
Estão — e resistem. Porque se tem uma coisa que o povo indígena aprendeu, foi a arte de resistir. Resistir ao trator, à cerca, à bala, ao olhar torto, às fake news de bairro, aos programas sensacionalistas das rádios FM da vida, ao apagamento que tenta, há quinhentos anos, convencê-los de que não existem.
No fim da manhã, o buraco da rua estava fechado. O da cidade? Esse segue aberto. Fundo. Muito fundo.
E, se me permitem a pergunta:
— Quem é, afinal, que anda cavando?
* Onildo pe professor na rede estadual de ensino